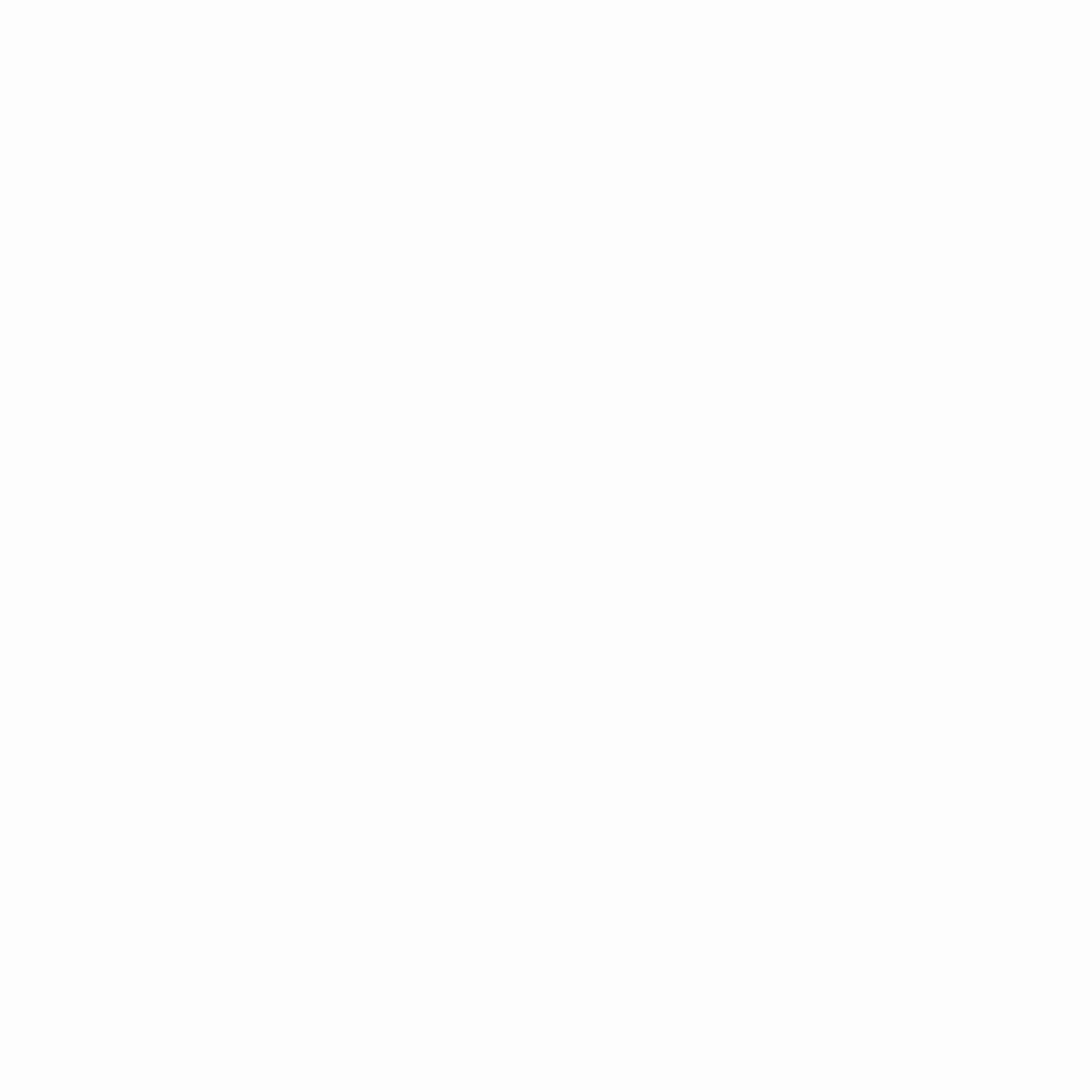Há políticas públicas que nascem em gabinetes. Outras nascem nos territórios. Os Pontos de Cultura pertencem a essa segunda linhagem. Antes de serem política, já eram prática. Antes de virarem programa, já eram vida cultural pulsando em comunidades, periferias, aldeias, quilombos, favelas, associações, terreiros, coletivos, grupos de jovens, mestres e mestras da cultura popular.
O Programa Cultura Viva surge, portanto, não para criar cultura — essa visão tão anacrônica —, mas para reconhecer, fortalecer e dar condições de continuidade ao que já estava em curso. Um Ponto de Cultura não é um equipamento do Estado. Não é um projeto isolado. É um arranjo cultural de base comunitária, profundamente conectado ao território, às pessoas e às formas próprias de organização da vida cultural. Pode assumir diferentes formatos jurídicos — ou nenhum —, atuar em múltiplas linguagens e dialogar com distintas gerações. O que o define não é a forma, mas o vínculo vivo com a comunidade.
Essa inversão de lógica — o Estado reconhecendo o que o povo já faz — é uma das experiências mais ousadas da política cultural brasileira. E talvez por isso mesmo tenha causado tanto estranhamento. Sob a condução simbólica e política de Gilberto Gil, essa visão ganhou uma imagem que atravessou o tempo: o Do-In antropológico. Trata-se de ativar pontos vitais, liberar fluxos, estimular conexões já existentes, permitindo que a energia cultural circule com mais força.
Como toda inovação, essa política expôs os limites do próprio Estado. A burocracia brasileira, moldada para lidar com grandes contratos, estruturas centralizadas e instituições altamente formalizadas, não estava preparada para operar a diversidade, a informalidade e a inteligência coletiva dos territórios. Faltavam instrumentos jurídicos, administrativos e contábeis adequados. A ousadia cultural abriu caminho — e, ao mesmo tempo, revelou as travas.
Ainda assim, o programa avançou, se consolidou e se transformou em política nacional. A institucionalização da Política Nacional Cultura Viva e, posteriormente, da Lei Cultura Viva, representou um marco na relação entre Estado e sociedade civil. O Termo de Compromisso Cultural, criado nesse processo, foi uma inovação decisiva, antecipando princípios que mais tarde seriam consolidados no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A cultura, mais uma vez, abriu caminho para a democracia.
Esse percurso, no entanto, foi interrompido por um longo período de desmonte, iniciado após o golpe que afastou Dilma Rousseff e aprofundado nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. O Ministério da Cultura foi extinto, políticas foram paralisadas e a parca institucionalização conquistada foi desmontada. Ainda assim, a cultura resistiu. Porque os Pontos de Cultura não vivem apenas de orçamento. Vivem de laço social, de compromisso comunitário, de sentido coletivo.
Hoje, quando as Teias Estaduais voltam a acontecer, algo vibra de novo. Não como repetição do passado, mas como reencontro. Um sinal de que os fios seguem conectados, de que a cultura de base comunitária continua viva e que, em breve, estaremos novamente juntos na Teia Nacional — não apenas para celebrar, mas para pensar o futuro.
E pensar o futuro exige ousadia.
Vamos jogar luz sobre a potência — e o potencial — dessa política.
Façamos uma conta simples, agora olhando para frente. 10 mil Pontos de Cultura recebendo R$ 2.000 por mês representam R$ 20 milhões mensais, R$ 240 milhões por ano. Em termos de orçamento público nacional, trata-se de um valor absolutamente administrável. Para efeito de comparação, o Estado brasileiro mobiliza regularmente dezenas de bilhões de reais para socorrer bancos, sustentar operações financeiras complexas ou enfrentar crises de grandes corporações privadas. São escolhas políticas feitas, quase sempre, em nome da estabilidade econômica.
A pergunta que se impõe é direta: por que garantir estabilidade a grandes agentes econômicos é tratado como necessidade, enquanto garantir condições mínimas para a cultura de base comunitária ainda é visto como exceção?
Os dados ajudam a responder. A Pesquisa de Impacto Econômico da Lei Rouanet, realizada pela Fundação Getulio Vargas a pedido do Ministério da Cultura e da OEI, demonstra que cada R$ 1 investido em cultura retornou R$ 7,59 para a economia brasileira em 2024, movimentando mais de R$ 25 bilhões, gerando 228 mil postos de trabalho e R$ 3,9 bilhões em tributos. Cultura não é gasto. É investimento com retorno econômico, social e territorial comprovado.
Se isso é verdadeiro para a Lei Rouanet, é ainda mais potente quando pensamos nos Pontos de Cultura. Trata-se de recursos que circulam localmente, fortalecem economias comunitárias, sustentam pequenos prestadores de serviço, mantêm espaços vivos e produzem pertencimento.
É importante dizer com clareza: uma política de Bolsa Cultura não substitui as políticas de fomento. Ela as complementa. Políticas como a Lei Aldir Blanc demonstraram, em um momento crítico da história recente, a força do investimento público direto na cultura. Garantiram renda, mantiveram organizações vivas, ativaram economias locais e revelaram a capilaridade cultural do país. Mas o fomento, por natureza, é episódico, temporário e orientado a projetos.
O que se propõe aqui é outra camada da política pública: uma estrutura permanente, fixa e duradoura, capaz de garantir a existência material dos Pontos de Cultura ao longo do tempo. Uma política de Bolsa Cultura comunitária voltada à manutenção de sede, à garantia do básico — água, luz, internet, aluguel, manutenção. Algo que poderíamos chamar, sem exagero, de “Minha sede, minha vida”.
Não se trata de privilégio. Trata-se de reconhecer um crédito histórico que os Pontos de Cultura têm com a sociedade brasileira. São eles que, há décadas, mantêm viva a diversidade cultural, formam jovens, preservam memórias, produzem pertencimento e reinventam o futuro a partir dos territórios.
Este texto não se esgota em si. É uma abertura. Um chamado à ousadia. Porque a cultura não é acessório do desenvolvimento — ela é sua base. E os Pontos de Cultura precisam deixar de ser tratados como experiência lateral para ocupar o lugar que lhes cabe: prioridade absoluta em um projeto de desenvolvimento sustentável, democrático e profundamente brasileiro.